
O cantor e compositor César Lacerda reflete sobre as relações de consumo e produção cultural em tempos isolamento social e como elas podem desenhar o futuro.
Durante os últimos dez meses, período em que estive isolado em casa por conta da pandemia do vírus SARS-CoV-2, fui convidado frequentemente por amigos e colegas, mas também através de sugestões nas redes, a assistir pela internet a palestras, entrevistas, aulas, as mais diversas e apresentações artísticas. O fato de ter havido uma migração em massa em direção ao “mundo digital”, como uma reação frente ao impacto causado pelo isolamento social, tem me levado a perguntar que tipo de influências ou consequências este novo formato pode ter sobre a realização de shows e concertos no futuro.
Pergunta semelhante se poderia fazer a respeito de espetáculos teatrais, de dança, exposições e performances em geral. Mas também, sobre a formação em escolas e universidades, e ainda sobre o trabalho nas mais diversas áreas. Apesar de a tecnologia que permite realizar transmissões ao vivo estar disponível anteriormente, a pandemia parecer ter acelerado diversos processos dentro da sociedade brasileira, que, por sua vez, tem sido levada a naturalizar rapidamente noções como as de teletrabalho ou as de apresentações artísticas transmitidas pela internet. É sobre estes fatos que tenho tentado refletir: velocidade e naturalização.
Partindo do pressuposto que as lives, da forma como se desenvolveram nos últimos meses, “vieram para ficar”, como se faz saber a partir da opinião manifestada publicamente por diferentes artistas, produtores, agentes culturais, curadores e empresários, considero importante analisar e problematizar essa guinada em direção ao “digital” atentando-se às transformações e também a possíveis desequilíbrios que venham a se manifestar. Em um contexto de pandemia, e da consequente retração das atividades do campo da cultura, a adaptação veloz a essas ferramentas rivaliza com a necessidade de tentar compreender, ponderar, apresentar diagnósticos e alternativas frente a este cenário inédito. Ao investigar o porquê de tal aceleração, observo, antes de mais nada, a necessidade se de reatualizar o debate sobre o papel do Estado, e consequentemente, das políticas públicas destinadas ao setor da cultura num momento como este. Ademais, é preciso indagar sobre a interferência das gigantes tecnológicas em diversos processos culturais através das plataformas que elas disponibilizam, avaliando aspectos de precarização, acirramento e competição que elas produzem, e as múltiplas consequências desse processo nos ambientes de criação artística.

Nos últimos anos, assistimos a um desmonte de estruturas e de ferramentas que fortaleciam e protegiam os cenários culturais no país: uma série de políticas públicas e editais que fomentavam a criação, formação, transmissão, circulação e distribuição, deixaram de existir. Em decorrência disso, casas de espetáculo distribuídas pelo país fecharam; mostras e festivais, por falta de verba, não conseguiram realizar a edição seguinte; artistas pausaram ou até abandonaram as suas carreiras; veículos de crítica, pensamento e discussão não conseguiram mais produzir seus conteúdos, e assim por diante. Essas políticas tentavam atuar contra uma lógica global do mercado, reconhecendo que se havia promovido ao longo do tempo assimetrias que afunilavam condições de produção, realização e acessibilidade, mas também uma percepção de diversidade própria das culturas do Brasil. Desde a saída de Juca Ferreira do Ministério da Cultura, em 2010, nota-se que há uma subversão dessas práticas políticas, o que nos conduz, dez anos depois, ao atual cenário: a pasta ministerial tornou-se na gestão do presidente Jair Bolsonaro uma Secretaria alocada como órgão dentro do Ministério do Turismo. Com o intuito de arrefecer, ou até mesmo, eliminar políticas culturais conquistadas, uma articulação é turbinada pelo governo e grupos associados: a depreciação de uma parcela da classe artística e de políticas culturais como a “Lei Rouanet”; fato que encontra abrigo na opinião popular, que vem sendo conduzida a fazer uma associação entre a corrupção novelizada diariamente em rede nacional e supostos privilégios que esta classe teria por associar-se ideologicamente com políticos da esquerda. O ano de 2020 começa assim, com a combinação de cortes em fomentos, discurso de ódio e censura. Estas estratégias de guerra híbrida somadas ao agravamento de sucessivas crises econômicas que levam ao desemprego e empobrecimento, produzem aridez, incerteza e temeridade nos cenários cultural e artístico, incutindo sobre todo o campo desesperança e medo pelas impossibilidades que se somam.
A pandemia chega no Brasil nesse contexto, agravando ainda mais a situação. E com todos os impedimentos trazidos por ela, a internet apresenta-se como uma ferramenta imediatamente acessível e um espaço seguro em termos sanitários para uma reacomodação de atividades culturais. No caso da música, as lives rapidamente se convertem numa plataforma de apresentação de espetáculos, e os mais diversos artistas passam a realizar transmissões através do Instagram, Facebook, YouTube, Zoom ou Twitch.
De um lado, um grupo volumoso e diverso de artistas independentes, atuando fora da grande mídia ou do mercado convencional, tem produzido as suas lives em busca de realizar uma via de interlocução com o seu público. Lidando com toda sorte de obstáculos, realizam transmissões através dos seus próprios telefones celulares e de forma gratuita. Alguns, buscando formas de monetizar suas apresentações, apostam em ações que variam desde a venda de produtos, como camisetas, até a sugestão ao público para realização de contribuições colaborativas. Em suma, a difusão e naturalização dessas “noções de empreendedorismo” na rede reflete é que o país sob o governo de Bolsonaro empurrou quase metade da sua população ocupada para a informalidade, e os músicos não estão alheios a essa situação bárbara de precarização do trabalho. Pesquisa realizada pela União Brasileira dos Compositores em parceria com a cRio revela que 56% dos músicos não receberam por suas lives durante este período.
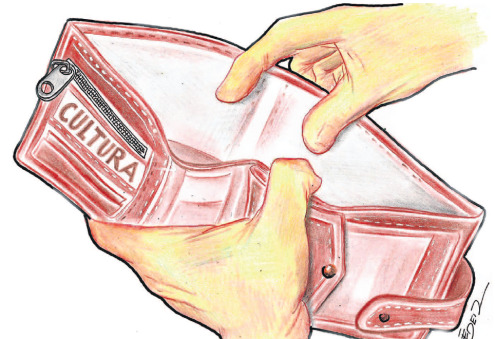
Na outra ponta deste cenário há as/ os artistas do mainstream, que têm produzido espetáculos grandiosos, financiados por grandes marcas de fast fashion, bebida alcoólica, cartão de crédito ou automóveis. São, em muitos casos, concertos apoteóticos que divergem emocionalmente, mas também economicamente, com a carga um tanto sufocante dos dias. Estima-se que o cantor sertanejo Gusttavo Lima pode ter recebido até R$ 3 milhões por apresentação transmitida pelo canal Band TV, segundo matéria da Rolling Stone Country. No ranking mundial divulgado pelo YouTube listando as lives de maior audiência, os artistas brasileiros figuram em peso. Representantes da música sertaneja, como Marília Mendonça e Jorge & Mateus, lideram a disputa com números expressivos. Coincidência ou não, a música comercialmente mais popular do Brasil é também aquela que está associada ao setor da economia com um dos índices mais relevantes de crescimento na pandemia, que é o agronegócio.
Além de audiência, as lives cativaram a adesão de empresários e produtores executivos de várias áreas que avaliam positivamente o modelo e enxergam a possibilidade de, no futuro, levar espetáculos neste formato para todo o país. Seria uma forma de lidar com os inúmeros obstáculos que se impõem na hora de rodar o Brasil com apresentações artísticas. Não obstante, há ainda uma discussão fundamental a respeito da redução de impactos e a crise climática — um tema que ocupará com centralidade as nossas vidas daqui para frente.
No entanto, nesse trânsito rumo ao “digital”, ainda outras questões se apresentam. Uma primeira pergunta que faço a respeito deste novo modelo é se ele atenderia, mais uma vez, somente a um grupo mais seleto de artistas que responde às demandas de patrocinadores, visto que um projeto com essa estatura e alcance precisaria de um aporte financeiro significativo responsável pela sua execução. Por outro lado, se a opção for por vender ingressos para que as pessoas assistam a estes espetáculos em suas casas, imaginemos o tipo de impacto que isso teria sobre toda a cadeia de produção artística, desde teatros e casas de espetáculos distribuídos pelo país se tornando espaços empurrados para uma obsolescência, bem como setores associados; o pipoqueiro, a gráfica, diversos segmentos do turismo nas cidades, enfim, a cultura gera empregos de formas muito amplas e diversas. Por fim, imaginemos que tipo de impacto esse isolamento experienciado pela área cultural teria sobre as sociedades, cada vez mais, segmentadas, repartidas, polarizadas.
É interessante observar se há propriamente uma demanda por ações de transferência como esta, ou seja, se há a inclinação de uma parcela suficientemente importante da sociedade a favor de trocar a possibilidade de ir presencialmente a um show pela de assistir a espetáculos em formatos digitais. O que há, objetivamente, é o desejo de expansão do negócio de artistas de notória expressão comercial que veem nesse modelo formas de nacionalizar o seu produto, derrubando assim, barreiras territoriais e culturais.
Para explicar melhor o que busco refletir, aqui valeria tomar de empréstimo a análise de um tema vizinho: a economia do compartilhamento. Segundo Bianca Tavolari em artigo para Quatro cinco um: “Grandes plataformas da economia do compartilhamento não desestabilizam apenas potenciais concorrentes diretos. No caso do Uber, pesquisadores e pesquisadoras já começam a medir os efeitos que o aplicativo tem no transporte público. Sistemas de metrô em grandes cidades já começam a ter dificuldade de manter os subsídios de tarifa dados os baixos preços de Uber e similares”. O mercado que se deseja construir a partir das lives parece se estruturar em consonância com perspectivas desta economia. E o resultado disso, via de regra, é que as populações mais desassistidas vão sendo cada vez mais afetadas, seja na sua mobilidade ou moradia, seja na possibilidade de produção e fruição à cultura. O ciberespaço gerenciado por essas gigantes tecnológicas, vai se tornando, e com estímulo estatal, um espaço de reprodução da lógica da precarização no campo cultural.
Nas últimas décadas, com o estabelecimento da internet e os avanços na tecnologia, e com o fato destas transformações estarem conjugadas à um maior acesso a equipamentos e softwares, a indústria da música se viu confrontada por um novo e insurgente cenário onde músicos os mais diversos puderam gravar e compartilhar as suas criações de forma mais direta, barata e imediata. E ainda, sem se orientar pelo crivo de diretores executivos, artísticos ou de marketing de grandes gravadoras. A internet se tornava, então, um importante fator disseminador e nela se assistiu ao fortalecimento de elos de diálogo — não nos faltariam bons exemplos de artistas na música popular, por exemplo, que surgiram e ganharam muita expressão pública neste período tendo sua representatividade conseguida através das redes sociais. Esses processos de descentralização foram muito importantes para estabelecer novas ideias de capilaridade e diversidade dentro do mercado da música.

Mas essa cultura emergente que se desenhava ali, tem sido conduzida para dentro do modelo gerenciado por essas grandes empresas transnacionais, que redefinem a circulação de música na internet, agora, via streaming. Tornou-se usual que um/a músico/a, independente das peculiaridades da sua produção artística e dos seus desejos enquanto criador/a, ao lançar um novo trabalho, seja orientado/a a fazê-lo dentro dessas plataformas, com o objetivo de alcançar mais visibilidade. Uma primeira questão que surge é que o modelo comercial das plataformas reforça uma lógica precarizante: essas empresas lucram exorbitantemente e pagam indevidamente. Uma outra questão, é que as ações no interior dessas plataformas estão condicionadas a formações de “bolhas”. Isso porque, a mecânica por trás de seu funcionamento responde a uma lógica responsável por atomizar um sistema de nichos: a experiência da escolha é fabricada por algoritmos que sugerem qual música o usuário deve ouvir, através de um mapeamento de perfil. Com isso, a chance de se escutar músicas diferentes, em gênero ou estilo, se restringe, afinal o dispositivo está condicionado a realizar previsões esquemáticas processadas em máquinas. Há, então, uma tendência a um achatamento na experimentação da própria diversidade de estéticas e abordagens artísticas. Além disso, em um contexto em que essas plataformas passam de distribuidoras de conteúdo a verdadeiras mediadoras culturais, aquilo que escapa de seus radares pende à condição de invisível.
Além disso, essas plataformas exacerbam, através de ferramentas de quantificação, o estímulo para se operar através de mecanismos que incentivam uma rivalidade: “número de seguidores”, “número de plays”, “número de visualizações”, etc., se tornam marcadores comparativos de qualificação artística. Reitera-se e intensifica-se, dessa maneira, uma “cultura da concorrência”, como se as trajetórias artísticas se validassem apenas ao responderem, de maneira quase atlética, por essa proficiência em alcançar números.
Em seu livro “Depois do Futuro”, o filósofo italiano Franco Berardi comenta: “A rede, argumenta Formenti [em “Cybersoviet — Utopie postdemocratiche e nuovi media”], foi uma formidável ocasião para a elaboração utópica, estimulando a imaginação política e social e abrindo possibilidades impensáveis de concatenação e riqueza. Mas a ideia de que na rede a democracia encontrasse finalmente seu ambiente ideal, de onde irradiar-se em direção ao mundo real, pouco a pouco confrontou-se com a realidade do mundo territorial no qual a dimensão virtual também corre o risco de ser dominada pelos interesses econômicos e militares”.
Recentemente, foram divulgados dados por Daniel Ek, presidente do Spotify, revelando que a plataforma faz upload de aproximadamente 40.000 músicas por dia, mais de 1 milhão de músicas por mês — o que nos oferece uma medida relativa sobre o volume excepcional de material musical na internet. Essa produção intensa radicaliza a exposição da criação artística à lógica do efêmero. Mas não somente. Também o público tem sido levado a responder a altíssima e incessante fabricação de conteúdo com a presença constante nas redes. O fato do usuário ser instigado a passar demasiado tempo na internet, produzindo ou consumindo conteúdos variados, já se tornou objeto de estudos que sugerem que problemas como depressão, ansiedade, distúrbio do sono e arritmia podem estar associados à quantidade de tempo que se passa conectado. No entanto, há uma circunstância intrigante sobre o impacto da superexposição à internet em nossas vidas. Trata-se da tendência de substituir atividades que se davam em ambiente relacional, e que agora vêm, pouco a pouco, sendo oferecidas ao público em configurações que privilegiam um contexto mais solitário. Mark Fisher, em seu “Realismo Capitalista”, observa: “O uso de fones de ouvido é significativo aqui — o pop é experimentado não como algo que poderia ter impactos sobre o espaço público, mas como uma fuga em direção ao privado ‘ÉdIpod’ [OedIpod] do prazer de consumo, uma parede contra o social”. Ou como conclui o sociólogo canadense Arthur Krorker, “a ciberinteratividade é o oposto da relação social”. E é aí que temos uma grave ameaça.
Em matéria na Radio France do dia 28 de setembro, lê-se que estudo realizado pela The Musicians’ Union, sindicato que representa mais de 30.000 músicos, revela que um terço destes profissionais no Reino Unido está pensando abandonar a profissão por dificuldades financeiras motivadas pela pandemia (o Reino Unido contou com ações de auxílio emergencial como o Fundo criado pela instituição Help Musicians, que disponibilizou cerca de 5 milhões de libras esterlinas para o setor, além de programas do Governo e também outros fundos). Horace Trubridge, representante-geral da União de Músicos do Reino Unido, entrevistado pela NME, disse que este número de músicos que abandonará o seu ofício pode ser ainda maior, e culpa a natureza do modelo de negócios das plataformas de streaming, cuja renda gerada virtualmente, é muito baixa e impede os músicos de ficarem em casa ou de se manterem na profissão, sobretudo, se comparada esta renda virtual aos cachês que receberiam se pudessem se apresentar em festivais ou casas de espetáculo. No Brasil do governo Bolsonaro, a ausência de transparência sobre os impactos da pandemia também se manifesta no setor cultural, e é possível especular que nossa situação talvez seja ainda mais catastrófica.
Desde que a pandemia chegou aqui e medidas de segurança sanitária foram impostas, assistimos a uma aceleração vertiginosa da desarticulação de estruturas de promoção cultural: o impedimento de aglomerações levou ao fechamento de teatros e casas de espetáculo, e ao cancelamento de shows, mostras e festivais. Essa realidade, porém, não deixou de suscitar debates sobre o lugar da cultura em um momento tão dramático e sobre a capacidade do setor de promover suas atividades em acordo com as exigências sanitárias impostas pela crise. Com o tempo, governos estaduais e prefeituras mudaram suas políticas a respeito do isolamento social reabrindo shoppings, bares e restaurantes, e academias de musculação. No entanto, optaram por não retornar shows e concertos — salvo pontuais eventos, como os shows no formato drive-in em grandes estádios. É importante ressaltar que iniciativas como essa partem de grupos privados, atendendo a uma demanda específica, relativa a venda de espetáculos de artistas de expressão mercadológica. O que fica expresso, portanto, é que políticas como as adotadas pelos governos Federal, Estadual e Municipal, de forma geral, cumprem uma agenda de descaso e perseguição com os setores artístico e cultural, levando a classe a uma situação degradante e consolidando uma ideologia que a despreza, marginaliza e estigmatiza.
A gravidade da situação aqui tomou feições escandalosas e afetou até mesmo artistas de renome como Nelson Sargento, Arnaldo Baptista, Angela Ro Ro, entre outros, que foram até as redes pedir ajuda financeira. Vale ainda registrar as condições trágicas como o compositor Aldir Blanc morreu vítima de complicações causadas pelo coronavírus. Autor de dezenas de canções seminais da música popular brasileira, em seus últimos dias de vida, num hospital público, sua família precisou recorrer a amigos e fãs em busca de doações que custeassem seu tratamento. Seu nome batizaria em seguida a lei que seria aprovada em julho de 2020 pelo Congresso Nacional e destinaria recursos ao setor cultural. Muitos dos mais de 5 milhões de profissionais que esperavam essa ajuda do governo, até hoje, em janeiro de 2021, encontram dificuldades de receber o auxílio.
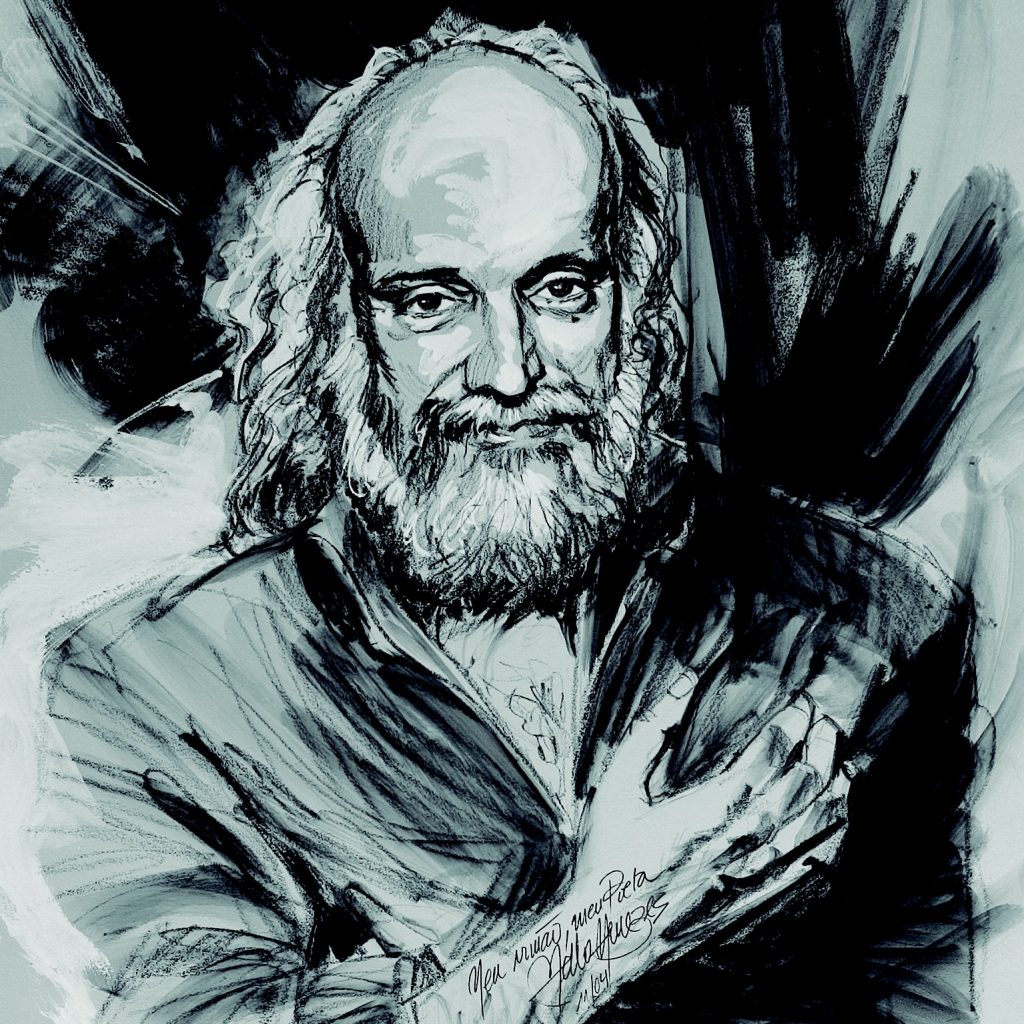
Estamos gravemente feridos: sangramos pela atuação de um Governo bárbaro e cruel que, praticando a desassistência como solução dos problemas, empurra o campo cultural à lógica de um empreendedorismo individualista e do “salve-se quem puder”. A este cenário, desprovido de políticas públicas destinadas à cultura, se somam as múltiplas interdições decorrentes da pandemia. Na impossibilidade do contato corporal, adaptamos, muitas vezes impossibilitados de resistir, nossas práticas ao mundo digital, tornando-nos cada vez mais reféns da internet, como meio de interação e de distribuição do nosso trabalho. Porém, a internet, que outrora era ferramenta de promoção e descoberta de diversidades, hoje se define como protagonista fundamental de um processo de precarização do nosso próprio ofício pela lógica ostensivamente brutal conferida pelas gigantes tecnológicas. Tem-se, com isso, um mecanismo que se retroalimenta e que busca se consolidar para além da conjuntura de crise atual. Por mais que este processo seja repleto de desvios, apropriações e ressignificações potentes, nos possibilitando vislumbrar cenários alternativos, considero importante insistir no caráter artificial e oportunista que se manifesta nessa reconfiguração das práticas culturais e na pressa de sua validação. Se crise é sinônimo de oportunidade, a crise atual tem sido o cenário perfeito para que as velhas forças do atraso, da dominação e da promoção da desigualdade, se rearticulem e projetem um futuro. Esse futuro não me interessa. O que está em jogo é a velha questão do lugar da cultura na nossa sociedade. Trata-se de um embate permanente que, mesmo diante do quadro desolador que presenciamos, não deve ser negligenciado, ou postergado. É no embate da cultura, na cultura e pela cultura que disputaremos futuros melhores.
(*) César Lacerda é cantor, músico e compositor. Lançou em 2013 o seu primeiro disco, “Porquê da Voz”
Fonte: Revista Bravo!

Faça um comentário